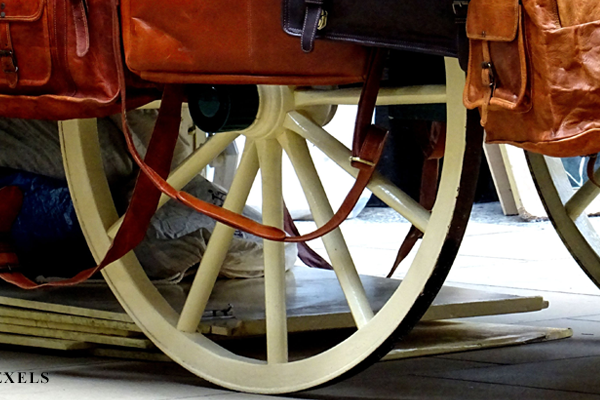*Alexandre S. da Rocha
Nos primórdios do século vinte, minha avó, inocente dos mistérios da ciência política, parecia acreditar no democrático ditado segundo o qual “a voz do povo é a voz de Deus”. Sintoma dessa crença era o hábito de repetir, por tudo e por nada, essas fórmulas que se chamavam, então, anexins da sabedoria popular.
“O bom julgador julga por si” é um exemplo de semelhantes ditos. Um dos sentidos em que pode ser entendido refere-se ao reconhecimento de que, a exemplo do que supunha, equivocadamente, a fisiologia da antiguidade, nosso olhar crítico é que ilumina aquilo que mira, só que, agora, no sentido de projetar sobre esses objetos (antes que deles captar) as qualidades e defeitos que abundam em nossa própria mente.
Outro modo de entender o ditado sublinha o caráter paradigmático de nossa própria individualidade, que funciona como modelo privilegiado para a compreensão que podemos ter do mundo. Em que pese estar convicto de que as lucubrações filosóficas que tais idéias podem inspirar são importantes e úteis à finalidade prática de bem entender o mundo da vida cotidiana, não é por esse caminho que pretendo enveredar. Desejo, por agora, inspirar-me na voz do povo com o fim de considerar o fenômeno da personalização e suas conseqüências para consciência política do brasileiro médio. Consiste a personalização em imaginar que qualquer ator social tenha características próprias a uma pessoa. Neste caso, o julgador (aquele que fala), julgando por si, imagina que a coisa de que fala (a organização, o grupo humano, institucionalizado ou não) tenha características que o próprio julgador – o que fala – tem, como pessoa.
Fazem parte da linguagem usual frases como “o governo quer…” ou “é intenção da empresa…” sem que aquele que as pronuncia se preocupe com o fato de que vontade e intenção só se compreendem razoavelmente quando dizem respeito a um ser humano individual. A generalização dessas faculdades para a “pessoa” composta por uma rede complexa de relacionamentos interpessoais e intergrupais é extremamente problemática. Redes desse tipo são dotadas de restrições e dinâmicas implícitas e explícitas, e os seres humanos que delas participam são afetados por interesses os mais diversos, confessáveis e inconfessáveis, conscientes e inconscientes, compatíveis e incompatíveis entre si.
Tecnicamente, chamam-se atores complexos esses aglomerados em nome dos quais determinadas pessoas naturais – os verdadeiros agentes – praticam ações que guardam certa coerência. Nesse caso, como em tantos outros, o conjunto é mais do que a simples soma das partes. Há uma pluralidade de efeitos sinérgicos da solidariedade que caracteriza o ator complexo – o governo, a empresa – e das solidariedades que caracterizam os subgrupos que, de maneira legítima ou espúria, abrigam-se no ator complexo global e que são, eles próprios, atores complexos também – o ministério X, o departamento Y ou o “grupo de Fulano ou Beltrano”.
No Brasil, não apenas é costumeiro dizer-se que “o governo faz ou acontece” (ou que deixa de fazer ou acontecer), mas é também freqüente que mesmo pessoas portadoras de alguma cultura e descortino digam isso com a atitude de quem crê efetivamente que exista um tal governo-pessoa*, monolítico e indiviso. Disso para atribuir ao governo-pessoa uma face e um nome – os do presidente da República – é um passo pequeno, que se dá quase sem sentir.

Esse estado de coisas tem uma conseqüência lógica: por ser débil, no Brasil, a consciência da responsabilidade política, viceja a esperança de que, com um presidente “salvador da Pátria”, todos os males nacionais de resolvam de supetão e – o que é melhor – sem qualquer sacrifício por parte do povo.
A responsabilidade política é a figura – tão presente nos regimes parlamentaristas – que justifica a demissão de um governo (o gabinete ministerial) cujos atos não estejam sintonizados com a vontade popular, representada, nesse caso, pela confiança do parlamento. Nos regimes presidencialistas, a responsabilidade política se faz presente pelo julgamento do governo de mandato fixo nas urnas, na hora de eleger-se o sucessor. Trata-se, portanto, de reconduzir ou não ao poder um partido político a partir do êxito ou fracasso de seu programa partidário, durante todo o período governamental que se extingue, e não votar segundo o carisma pessoal ou critérios outros, imediatistas e irracionais.
Manter ou afastar governantes pelos critérios da responsabilidade política, porém, em nada se parece com a esperança messiânica em um “salvador da Pátria”. Sem se diminuir a responsabilidade do presidente pelos erros e acertos de seu governo, o presidente não é o governo. Existem problemas graves e de demorada solução que perdurarão qualquer que seja o presidente, e qualquer presidente, por mais operoso, iluminado e bem-intencionado que seja, só pode realizar, pessoalmente, uma parte mínima dos resultados do governo que se diz seu.
Em nosso caso, a isso se acrescenta uma peculiaridade do Brasil: é praticamente impossível propor um programa de governo realista a ser legitimado pela aprovação das urnas. Quem fale em sacrifícios necessários dificilmente será eleito. Bem andaríamos, porém, se preferíssemos programas de governo que não omitissem a parte dolorosa da verdade às habituais utopias que a ocultam e alimentam a esperança desinformada. Por causa delas, o povo continua a experimentar os escorchantes sacrifícios com que tem convivido por décadas, crendo falsamente que se não fosse por erros episódicos do governante em exercício a vida seria um mar de rosas. O desmentido dessa fantasia traz um dano ainda maior: o fato de não serem os erros episódicos, por si sós, os causadores de todos os males, é pretexto para que os responsáveis por eles se sintam absolvidos de sua desídia ou incompetência.
É legítimo o povo esperar que sejam competentes e honestas as pessoas que integram o governo, e essas pessoas devem responder pelas falhas em que tenham incorrido. Isso se fará pela promoção da responsabilidade civil e penal, quando for o caso, ou pela promoção da responsabilidade política, no momento da manifestação do eleitor nas urnas. Dizer mal do governo, de maneira genérica e impessoal, pode valer como desabafo, mas, na verdade, tem o efeito contraproducente de ajudar culpados a escapulirem da individualização da culpa. Do chefe do poder executivo, no regime presidencialista que adotamos, espera-se que, ao nomear seus auxiliares, alie ao critério político o da competência e honestidade, porque de nenhum modo se pode eximir de responsabilidade pelos resultados finais dos atos que eles praticarem em nome do governo. Se não quiser ou puder executar a contento essa tarefa de liderança e supervisão, há remédio para isso: a alternância de propostas políticas no poder, que a democracia nos permite exercitar. Entretanto, convém ter cautela. O voto de repúdio é legítimo, mas é fraco como instrumento político e perigoso como instrumento de governo pelo povo. Para que não se incorra em outro dos ditados favoritos de minha avó – “trás mim virá quem bom me fará” – é necessário ir além de dizer “não quero” ao que já foi feito; é preciso que haja opções claras e definidas entre as quais escolher, dizendo-se, nas urnas, um inequívoco “quero”.
Os debates parlamentares, os escândalos veiculados com estardalhaço pela imprensa, os bate-bocas acalorados e muitas vezes de gosto duvidoso, até os recursos para manter-se no poder ou para conquistá-lo, alojados nas cinzentas bordas delimitadoras do lícito e do ético, tudo isso existe no jogo político, que a democracia torna mais transparente.
Tenhamos, entretanto, a precaução de não nos deixarmos impressionar pelo barulho, pela imagem, pelos títulos ou pelos currículos, apenas. Evitemos, também, a ingenuidade maniqueísta de crer que a decência ou a imoralidade pertençam, de maneira exclusiva, a determinados grupos ou partidos. Valorizemos, sobretudo, uma base sólida de honestidade e bom-senso em que a cultura e a amplitude de visão, aparecendo, realcem virtudes mais singelas e caseiras, nem tão diferentes assim das cultivadas por minha avó, que alardeava a sensatez dos ditados populares. Nessas virtudes é que estão verdadeiramente a força e a esperança de um povo. São elas, e não um político miraculoso, a salvação da Pátria.
* De pessoas mais humildes, tenho a lembrança de uma empregada doméstica dos tempos de minha meninice que, sempre respeitosa com os que julgava “superiores”, referia-se polidamente a “seu”Governo. Para aquela excelente criatura, dizer “o”governo parecia familiaridade intolerável com pessoa de tamanha autoridade.
*Alexandre S. da Rocha – É autor do livro O Grande Jogo da Estratégia, publicado pela Corpo da Letra Editora e Responsabilidade como Humanismo, pela Juruá
Reside em Clarksburg, Maryland, United States
Doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Antigo assessor do Inter-American Defense College, Washington, D. C.